Por Fernando Oriente
Os quatro melhores filmes do Festival
‘Capitu e o Capítulo’, de Julio Bressane (Brasil, 2021)
Em seu novo longa, reforçando o que vem fazendo desde os anos 1990, Bressane traz a força da teatralidade da encenação, com toda a construção de cena baseada em planos estáticos em que uma valorização dos tableaux se dá de maneira primorosa pela disposição dos corpos e objetos dentro do quadro e na junção espaço-temporal entre personagens, fragmentos dramáticos e espaços cênicos. Ao mesmo tempo em que Bressane reforça a potência da teatralidade cinematográfica no cinema contemporâneo, o cineasta remete a uma mise en scène do primeiro cinema, especialmente aquela dos filmes europeus dos anos 1910, em que a encenação se dava por meio de uma mise en cadre da qual os plateaux eram o centro a partir dos quais a ação era construída, com ênfase nos posicionamentos dos atores, seus deslocamentos e distâncias em relação a câmera fixa e a profundidade de campo era explorada como recurso composicional e dramático dentro de ambientes internos. Mas Julio Bressane vai além e faz essas presenças no plano estático reforçarem a materialidade dos corpos e o que eles representam na dramaturgia – suas personas ficcionais emanam de seu próprio ser em cena em relação à potência do décor.
‘Capitu e o Capítulo’ promove uma junção de pequenos instantes de ‘Dom Casmurro’ intercalados com uma expansão do texto machadiano em direção à literatura brasileira dos séculos XIX e XX. Essa junção é promovida pela presença do personagem do narrador, que é ao mesmo tempo Bentinho (já mais velho) e o próprio Machado de Assis, além de uma extensão do próprio Bressane, que se coloca em cena por meio desse narrador-personagem. As reflexões do narrador sobre poetas como Álvares de Azevedo e Junqueira Freire, com direito a leitura de alguns de seus poemas, bem como a citação direta de um ensaio de Lima Barreto, fazem com que Bressane relacione a obra machadiana com o contexto literário que o precedeu e o seguiu. Esses momentos são uma forma do diretor interromper as sequências diretamente extraídas de ‘Dom Casmurro’ e contextualizar o romance com o pensamento literário e dramático que são a fonte da moderna literatura nacional.
Além disso, Bressane reforça um elemento que vem se utilizando em seu cinema recente, a constante inserção de cenas e seus antigos filmes, criando, dentro de uma obra fechada, uma relação centrífuga com a evolução de seu próprio fazer cinematográfico.

As cenas digressivas do narrador (e os excertos de antigos filmes do diretor) se intercalam a fragmentos do mais célebre romance de Machado. Nestes, Bressane põe a ênfase na força erótica de Capitu, Sacha e Escobar e no contraste dessa potência erótica do desejo com um quase assexuado Bentinho, mostrado como um homem fraco, frágil e incapaz de romper com sua mesquinha posição moral pequeno burguesa.
Julio Bressane cria um universo cênico de pequenos e belíssimos instantes dramáticos, em que a força do texto falado, da simples presença dos atores em cena e do uso destacado da profundidade de campo em ambientes fechados (assim como de toda a escala de planos dentro do quadro), além do destaque dado aos objetos de cena, reforçam as sensações dos tipos. Tudo dentro de um processo composicional anti-naturalista, em que a significação das ações e, principalmente, dos desejos, sentimentos e hesitações dos personagens ganham vida por meio de falas declamadas, de instantes de um silêncio espesso, da expressividade dos cenários, de olhares, gestos e expressões, bem como por meio da deslumbrante construção dos tableaux.
E, já que o filme exige uma crítica muito mais extensa, para resumir estes breves comentários em poucas palavras: Bressane nos oferece mais uma obra-prima.
‘A Máquina Infernal’, de Francis Vogner dos Reis (Brasil, 2021)
Francis Vogner dos Reis realiza, em apenas, 29 minutos, um brilhante retrato da situação da classe trabalhadora no Brasil. Mais especificamente o operariado industrial. Algo raro no cinema brasileiro contemporâneo, um filme em que a questão de classe é o centro e a razão da dramaturgia. Entre os inúmeros subtextos presentes em ‘A Máquina Infernal’ temos o colapso da industrialização no país. Esse processo da desindustrialização brasileira, que teve início nos anos 1980 e se agudizou a partir do Plano Real em 1994, marca uma transição da acumulação de capital no país para um tipo de capitalismo dependente rentístico, em que os industrias brasileiros, devido à concorrência de produtos manufaturados estrangeiros – que passam a inundar o mercado nacional após a abertura total da economia do país iniciada no início dos anos 1990 – fecham suas indústrias e passam a viver da especulação financeira, principalmente nos títulos da dívida pública e na renda imobiliária dos antigos galpões e terrenos onde existiam as fábricas. É bom deixar claro que o Brasil que sempre foi um pais dependente, subdesenvolvido e periférico, apesar breves momentos de desenvolvimentismo que nunca foram capazes de tirar o pais de sua posição depende e subdesenvolvida e na qual classe trabalhadora sempre foi vítima da superexploração da força de trabalho, ao mesmo tempo em que a maioria dos lucros da nossa economia eram exportados para exterior via o envio de remessas de capital acumulado no pais e produzido por nossos trabalhadores.
A participação do capital industrial no PIB do país passa de mais 40% em fins dos anos 1970 para menos de 15% já nos anos seguintes ao Plano Real – e hoje representa pouco mais de 10%. A nova divisão internacional do trabalho, que fez com que as multinacionais com sede nos países imperialistas transferissem suas plantas para o sudeste asiático e a Índia, bem como a crescente estrangeirização da economia nacional, restringiu o parque industrial brasileiro às transnacionais e a empresas de capital misto, onde a maior parte dos lucros fica na mão de investidores e sócios estrangeiros. Todos os setores da indústria de bens e equipamentos sofreu um enorme encolhimento.
Essa digressão não é meramente ilustrativa, é o cerne, a base material que engendra o discurso de ‘A Máquina infernal’. No filme acompanhamos uma indústria na divisa de São Bernardo com Diadema, na região do ABC paulista, que se encontra em processo de falência – os donos sumiram e uma interventora foi chamada para gerenciar a fábrica nos seus últimos momentos antes do inevitável fechamento de suas atividades. No interior dessa fábrica acompanhamos os poucos operários que restam, trabalhando em meio a máquinas deterioradas ou simplesmente quebradas, sem a mínima segurança para operar esses equipamentos e sofrendo de uma crescente superexploração de suas forças de trabalho, com aumentos da jornada de trabalho, empregos temporários, alguns cumprindo aviso prévio após serem demitidos e todos com seus rebaixados salários atrasados.

Vogner dos Reis compõe de forma precisa os espaços internos dessa fábrica – ao mesmo tempo que contextualiza a área em seu entorno, com cenas externas de suas ruas e das poucas indústrias que restaram na região. Acompanhamos os deslocamentos dos operários que exercem seus trabalhos de maneira melancólica e resignada, a câmera filma detalhadamente a maquinária deteriorada, passeia pelos espaços intercalando planos fechados nos operários e planos de conjunto em que os mostram integrados aos espaços de trabalho, em curtos diálogos, se deslocando pelos ambientes da indústria ou simplesmente operando as máquinas. O tempo todo a excelente banda sonora introduz sons e ruídos das máquinas ao mesmo tempo em que insere barulhos estranhos; é como se aquelas máquinas estivessem emitindo sons de seu próprio colapso, anunciando a ruína final dessa fábrica.
Em uma das grandes cenas do filme, temos uma assembleia entre os funcionários e a interventora, em que as demandas dos operários por seus salários atrasados, suas queixas pela extensão da jornada são interrompidas pelo conflito entre os próprios trabalhadores. Um deles clama por uma greve com ocupação, enquanto outro o ataca e diz que eles têm que aceitar a situação para não perderem de maneira ainda mais rápida seus empregos. Nessa cena, mais um subtexto aflora dentro do discurso dramático, a fragilidade e a incapacidade de combate da classe trabalhadora, impossibilitada de se unir para lutar por seus direitos. Isso escancara a imensa regressão da consciência de classe que tomou conta dos trabalhadores brasileiros desde os fins dos anos 1980 e principalmente a partir dos anos 1990. Essa perda ou embotamento da consciência de classe se deve, no Brasil, à ação deletéria de sindicatos e centrais sindicais pelegas, ao crescente desemprego e rebaixamento dos salários, as perdas dos direitos trabalhistas, bem como da ação dos partidos de esquerda, que passaram a abandonar a questão da luta de classes e a barganhar por pequenas causas e por políticas públicas de curto alcance.
O grande achado e uma das mais potentes soluções dramáticas assumidas por Francis Vogner do Reis é abordar essa situação concreta do proletariado industrial brasileiro nos dias hoje por uma chave fantástica carregada de simbologias e significações. Desde o início do filme, temos um crescente tom pesadelo, de horror – como numa das primeiras cenas em que um operário morre ao operar uma máquina. Ao longo do filme, vemos trabalhadores entrarem numa espécie de surto, em que se tornam uma espécie de zumbis, como se fosse extensões mecânicas das próprias máquinas. A maquinaria e a própria fábrica passam agir por conta própria, objetos são atirados nos funcionários, os ruídos se intensificam, sons insuportáveis tomam conta do espaço interno, operários caem no chão em convulsões provocados pelo contato com a maquinaria. Tudo caminha até o desfecho, quando a fábrica mata todos os operários, com exceção da protagonista, que perambula pelos espaços entre os cadáveres de seus colegas de trabalho até ela mesma ser tomada por um surto. Essa situação no interior da planta culmina com uma imagem externa da fábrica sendo demolida.
A indústria falida desmorona e soterra os operários. A crise do capital industrial se materializa na tela pelo próprio desmoronamento da fábrica; o capitalismo industrial desaba matando o operariado superexplorado. Os últimos planos trazem uma espécie de limbo pós destruição, em que vemos a protagonista andando pela indústria e vendo todos aqueles que morreram, desde o primeiro personagem que morre no início do filme, trabalhando normalmente. Surge em cena a figura do proprietário da fábrica – aquele que tinha abandonado e fugido da empresa – e sem mover os lábios ouvimos sua voz dizendo à protagonista que as máquinas não quebrarão mais e ela está dispensada do trabalho. Então, a jovem operária se dirige à saída da fábrica, mas ao abrir a porta, vê uma parede. Não há saída, todos estão encerrados dentro dessa fábrica que não mais existe. O operariado, assassinado pelo capital está encerrado dentro desse espaço de trabalho que não mais existe. É fim dos empregos, dos postos de trabalho, das indústrias do ABC que há quatro décadas atrás representaram o ápice da industrialização brasileira; a crise final do capital industrial brasileiro.
‘A Máquina Infernal’ une cenas de um realismo cru a elementos de cinema fantástico e mesmo de horror. É a forma composicional que Vogner dos Reis encontra para traduzir a realidade desesperadora da classe operária brasileira hoje, que começou a ser gestada há décadas e encontra seu colapso final nos dias atuaia. O uso dos elementos fantásticos não são mero exercício formal e estético, eles traduzem e ampliam, metaforicamente, a realidade concreta retratada no longa. O fantástico no filme é uma forma de potencializar o realismo crítico com que o diretor constrói seu curta. Um dos grandes filmes do ano.
‘A Cidade dos Abismos”, de Priscyla Bettim e Renato Coelho (Brasil, 2021)
O centro de São Paulo se tornou um mito no cinema, como também na literatura. Essa mitologia em torno de um espaço degradado surgiu a partir dos anos 1960, quando a região central da maior cidade do país iniciou seu processo de deterioração. Até a década de 1950, o centro paulistano era pujante, frequentado pelas classes médias e altas, que ao mesmo tempo continha uma população pauperizada em seus cortiços e pequenos edifícios. mas que não impediam a circulação das classes abastadas em seus bares, cafés, restaurantes, doceiras, cinemas e teatros. A degradação desse espaço alimentou uma nova relação da classe artística com a região central de SP, que no caso do cinema se traduziu no cinema marginal (ou de invenção) e depois nos filmes da Boca do Lixo. A Rua do Triunfo era o local onde se encontravam as produtoras e distribuidoras de filmes e por seus quarteirões andavam cineastas, fotógrafos, roteiristas, montadores, produtores, bem como atrizes e atores que trabalhavam diretamente tanto nos filmes de invenção quanto nos longas da Boca dos anos 1970 e 1980. Isso também acabou. Hoje a Rua do Triunfo não tem mais nenhum vestígio desse mundo cinematográfico, mas existe na mitologia de um cinema incontornável que marcou a cinematografia paulistana.
Em 2021 o centro de São Paulo é habitado por moradores de rua, dependentes de crack, prostitutas, travestis, trabalhadores pobres e pequenos traficantes, ao mesmo tempo em que abriga artistas, poetas, escritores e intelectuais que se recusam abandonar a região e lá ainda moram, seja no Edifício Copam ou nos prédios das Avenidas São Luís e Viera de Carvalho e na região do entrono da Praça da República.
Essa longa introdução é necessária para nos aproximarmos desse ótimo primeiro longa de Priscyla Bettim e Renato Coelho. Em “A Cidade dos Abismos’ o centro de SP é tão personagem quanto os tipos que dentro dele interagem. E o vazio é marca central, esse vazio espacial da região que se transporta para as existências dos personagens.
No longa temos uma pequena narrativa que se desenrola em torno de quatro personagens que habitam a região central de SP – duas travestis, uma restauradora de filmes que trabalha na Cinemateca e um imigrante africano dono de um boteco fuleiro. Uma das travestis é assassinada no bar do africano e os outros três personagens passam a investigar por conta própria os autores desse crime. A grandeza do filme está em não se ater apenas a essa evolução dramática e promover uma mescla de situações alegóricas, que vão desde a entrada em cena de personagens marginais desse tecido urbano degradado do centro paulistano – que surgem na tela como arquétipos, recitam poesias diretamente para a câmera, ou apenas se movem como presenças fantasmáticas dentro desse vazio urbano -, passando por um sonho de uma personagem que é narrado e depois encenado, pela presença fantasmagórica da travesti assassinada que surge em cena perambulando pelas ruas sujas e deterioradas, por um bizarro Papai Noel que no dia de Natal, em plena Cracolândia, troca presentes por pedras de crack e por momentos de puro experimento com imagens – com cenas captadas em super 8 que registram as ruas, calçadas e fachadas de casas e prédios do centro e que são apresentadas em velocidade acelerada e montadas por justaposições e fusões de planos.
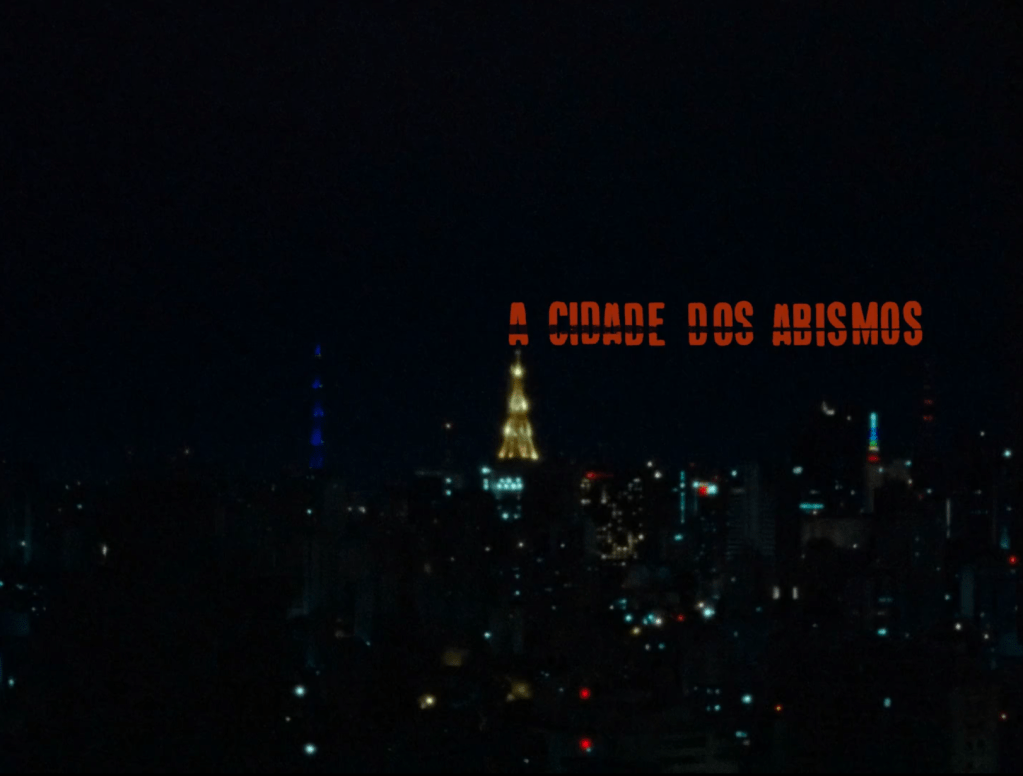
A Cidade dos Abismos’ é um filme híbrido, em que a pequena narrativa é constantemente intercalada por experimentos com as texturas da imagem ( o filme todo é captado em película; 16mm na maioria das cenas, super 8 nas sequências mais experimentarias e 35mm em uma única cena em que uma das protagonistas canta ao lado do personagem vivido por Arrigo Barnabé), planos e sequências alegóricos, uma constante inversão entre o colorido e o preto e branco, textos em off que penetram o espaço diegético. A filiação de Bettim e Coelho é o cinema de invenção, o experimental, mas mesmo nesse deleite de imagens e sons que o filme oferece, a dupla de realizadores consegue promover uma perfeita junção entre o alegórico e o discurso dramático centrado na presença desses quatro personagens centrais, seu vazio existencial, as relações de pequenas afeições que surgem entre eles e a fragilidade de suas existências que os conduzem a um desfecho trágico, onde a morte violenta nada representa para a “sociedade”. São vazios existências que ao serem eliminados da forma mais brutal somem da mesma forma como viveram, num limbo existencial. É o centro de São Paulo que abriga ao mesmo tempo que engole e faz desvanecer esses seres.
‘A Cidade dos Abismos’ promove uma verdadeira imersão no tecido urbano do centro de São Paulo, tanto em sua materialidade quanto em sua simbologia. Entre as cenas alegóricas e experimentais, temos momentos de potente encenação dos dramas dos quatro protagonistas, que são filmados em ângulos fechados – que oferecem uma sensação de aprisionamento espacial e existencial desses personagens -, um registro potente dos espaços cênicos, assim como diálogos lentos, silêncios, deslocamentos por ruas e becos, bem como por uma interação entre esses personagens em que rasgos de afeto e empatia afloram em meio a conversas corriqueiras e o desejo de descobrir os assassinos da travesti. Para completar, temos participações especiais de figuras marcantes da identidade cultural e social da cidade de São Paulo como Arrigo Barnabé, Claudio Willer, Marcelo Drummond e do padre Julio Lancelotti.
O primeiro longa de Bettim e Coelho tem os pés firmes em 2021, mas constantemente se expande em direção a elementos constitutivos do cinema de invenção, do cinema da Boca e de artistas que encarnam a metrópole paulistana em suas próprias presenças. ‘A Cidade dos Afetos’ transborda em suas imagens e sons essa cidade caótica e sua região central e reforça a mitologia do centro paulistano, mas de maneira orgânica e autêntica, onde a visão dos realizadores foge de clichês e preconceitos e retira uma beleza de onde menos se espera, sem mascarar a realidade concreta de um espaço deteriorado e abandonado e das existências que nele sobrevivem.
‘Apenas o Sol’, de Arami Ullón (Paraguai, 2020)
A cineasta paraguaia Arami Ullón consegue promover em seu documentário um registro original do processo de desenraizamento de índios da etnia Ayoreo na região do Chaco no Paraguai. Todo este processo se deve primeiro a descoberta do que podemos chamar de protagonista, o indígena Sobode Chiqueño, que há anos grava em fitas cassete os depoimentos de membros de sua etnia hoje confinados a reservas em uma região seca e distante das florestas onde habitavam antes do contato com os brancos; florestas estas que viraram fazendas, propriedades privadas para gerar lucro pelas atividades agrícolas, bem como pela renda da terra.
O grande mérito do filme está em centrar esses depoimentos, que Ullón registra enquanto Chiqueño os grava, no aspecto da religião, de como a catequese – primeiro católica, depois evangélica – fez com que esses indígenas, na maioria já velhos, tenham abandonado e renegado suas tradições e crenças religiosas e se convertido ao cristianismo e seus dogmas. Ao mesmo tempo o filme intercala os depoimentos com uma captação primorosa de imagens dos espaços onde vivem os indígenas e mostra a integração deles nesse ambiente áspero.
Outro elemento de força desse resgate pela fala do processo de desenraizamento dos Ayoreo são os depoimentos que o próprio Chiqueño faz para seu gravador – e que a diretora registra da mesma maneira horizontal com que filma cada fala dos indígenas -, em que comenta como ele, após ter se convertido ao cristianismo, passou a refletir como este processo o afastou de suas raízes culturais e simbólicas e o fez desejar registrar as experiências de seus pares, ao mesmo tempo em que tentava um resgate das antigas tradições de seu povo e que, pelos depoimentos e imagens, vemos que estão condenadas a desaparecer.

Mas o elemento religioso não é o único. Em um dos grandes momentos do longa, um índio idoso comenta como, após ter contato com os brancos, passou a desejar ser como eles e ter o que eles tinham. Só que ele pensou que poderia ter tudo isso de graça e descobriu que no universo do colonizador, tudo tem seu preço, um valor dinheiro desconhecido pelas vivências indígenas. Daí surge a questão do trabalho, dos baixíssimos salários pagos aos índios em trabalhos temporários e subempregos.
Embora seja centrado na questão religiosa, ‘Apenas o Sol’, também traz depoimentos em que indígenas relatam as chacinas promovidas pelos brancos em que seus familiares foram assassinados; traz a questão das doenças desconhecidas na comunidade e que, trazidas pelo colonizador, mataram muitos membros da tribo, além de tratar da questão da introdução das mercadorias e sua relação com o dinheiro. Um documentário de extrema profundidade no mergulho nas raízes desses indígenas, numa contextualização ampla da totalidade dos processos de colonização que os levaram a um inescapável desenraizamento.
Outros destaques do 10º Olhar de Cinema
Um dos pontos altos da programação do festival em 2021 foi a retrospectiva de todos os filmes do palestino Kamal Aljafari. São longas e curtas que dialogam constantemente uns com os outros e mostram que na evolução da obra de Aljafari, os elementos centrais de sua obra são sempre a questão da tragédia do povo palestino, desde a diáspora do Nakba em 1948, que, fruto do ataque militar que os israelenses promoveram às cidades palestinas, forçou o êxodo de centenas de milhares de árabes de suas casas, além do assassinato de milhares deles. E como esse processo de expulsão e segregação continua de forma ininterrupta até os dias de hoje.
Kamal Aljafari detêm sua câmera nas casas deterioradas e em ruínas em que vivem os palestinos, nas ruas de terra, nos entulhos que se intercalam a essas precárias residências dentro dos guetos em que foram transformadas as cidades de Jaffa e Ramle, incrustradas na periferia de Telavive e de outras cidades ocupadas por Israel. Sua câmera também registra esses árabes dentro destes espaços (interiores e exteriores), na maioria das vezes em silêncio, em pequenas ações banais do cotidiano ou em diálogos que vão do corriqueiro às lembranças das violências de que foram vítimas pelas mãos de Israel e seus sionistas.

Dos depoimentos melancólicos e da prostração resignada de seus parentes em O Telhado (2006), que também marcam a dramaturgia e os personagens de seu único longa ficcional, Porto da Memória (2009), Aljafari passa a trabalhar em seus dois filmes seguintes com imagens de arquivo de diversas fontes. Em Recordação (2015) acompanhamos, pela montagem de inúmeras cenas registradas em diferentes períodos históricos, a deterioração material da cidade de Jaffa, suas casas e ruas. Já em Um Verão Incomum (2020) o diretor se utiliza de imagens de uma câmera de segurança instalada por seu pai na casa da família captadas ao longo de vários dias, em que um único enquadramento é trabalhado por Aljafari para promover um registro de um fragmentos de rua e seus espaços adjacente onde vemos diversas pessoas passarem diante da câmera, intercaladas por cartelas em que o texto contextualiza quem são as pessoas conhecidas pelo diretor, bem como comenta sobre tipos desconhecidos dele e as ações que os vemos fazer diante da câmera. Nesse recorte espacial minúsculo, Aljafari consegue um registro poderoso do dia a dia de palestinos e meio ao gueto em que foram confinado. O cinema de Kamal Aljafari é notável.
Para concluir, destaco outros dois filmes muito bons que integraram a seleção do 10º Olhar. Zinder, longa da diretora do Níger Aicha Macky, em que a cineasta faz um mergulho pessoal no bairro marginal e paupérrimo de Kara Kara, em sua cidade natal da de Zinder. Kara Kara é habitado por gangues, prostitutas, contrabandistas de gasolina, bem como por trabalhadores que vivem de subempregos e com salários baixíssimos.

O longa é composto por uma notável apreensão dos ambientes do bairro, bem como de seus habitantes – com destaque para membros de uma gangue, uma contrabandista e um ex-membro de gangue que trabalha como mototaxista. Esta imersão em Kara Kara é ampliada pela inserção no discurso do filme de questões de base que promovem a miséria e a violência do local. A falta de emprego e ausência do Estado em promover o mínimo para a comunidade força a adesão de jovens da região tanto às gangues quanto a grupos terroristas e, no caso das mulheres e meninas adolescentes, à prostituição. Essa base socioeconômica também faz com que os habitantes do bairro tenham que sobreviver por meio de trabalhos por conta própria – como a venda de gasolina contrabandeada – ou por empregos temporários com salários rebaixados e uma constante superexploração de suas forças de trabalho, como no caso do trabalho em pedreiras da região. Um documentário de rara potência e de uma contextualização primorosa de um ambiente, seus habitantes e as relações materiais que determinam e condicionam suas vidas.
Já o documentário Estilhaços, da cineasta argentina Natalia Garayalde, faz uso de imagens captadas na infância da diretora, nos primeiros anos da década de 1990 – por meio de uma câmera de vídeo VHS da família de Garayalde – e montadas ao lado de imagens de arquivo da época e poucas cenas que diretora registrou, já nos anos 2010, em seu retorno à sua cidade de Río Tercero, na região de Córdoba. O filme gira em torno de um acidente que arrasou a cidade de Río Tercero, a explosão de uma fábrica militar de munições, em 1994.
Natalia Garayalde, então uma criança, filmou ela mesma, na câmera de vídeo de sua família, cenas que registram a destruição da cidade após a explosão. A força do filme vem da junção na montagem dessas cenas com outras captadas pela diretora criança e seus irmãos, em que vemos o cotidiano da família antes do acidente. O conflito entre o pacato e alegre dia a dia da família antes da explosão e a força das imagens caseiras de Río Tercero arrasada após o acidente nos dão um contraste pessoal e uma forte impressão do que essa tragédia significou para a vida de toda sua família. Ao mesmo tempo, as cenas feitas por meio de uma câmera caseira dão um tom extremamente particular e orgânico às imagens e ampliam a sensação subjetiva do olhar da diretora diante da tragédia.

As imagens não captadas pela câmera da família, as de arquivo e as cenas feitas por Garayalde nos anos 2010, bem como suas falas em off, nos jogam da visão pessoal e íntima das imagens caseiras antes e depois do acidente à contextualização do que foi essa tragédia: uma explosão proposital para tentar esconder o contrabando que o governo argentino de Carlos Menen fazia dessas munições com a Croácia em plena Guerra dos Balcãs.
‘Estilhaços’ é um documentário que consegue o grande mérito de tratar de um evento traumático da história argentina por meio de uma extrema pessoalidade e presença da realizadora no meio onde a tragédia ocorreu (bem como ela se materializa nas imagens caseiras que registrou enquanto criança) e Garayalde mostra grande talento na precisa utilização e escolhas das imagens, indo da intimidade de sua família à contextualização geral dos acidentes, bem como retoma duas décadas depois os efeitos da explosão, como o câncer que matou sua irmã e que também acometeu seu pai – câncer esse fruto da contaminação química provocada pelas explosões.
Comentei aqui os filmes que assisti e gostei, os que achei ruim ou apenas medianos foram deixados de fora. Também não tive como assistir à alguns títulos que foram elogiados por colegas críticos que tenho grande consideração, como o longa iraniano Crime Culposo e o argentino Esqui. Infelizmente não consegui assistir aos novos filmes de dois realizadores brasileiros que gosto muito, O Dia da Posse, de Allan Ribeiro e O Bom Cinema, de Eugênio Puppo.